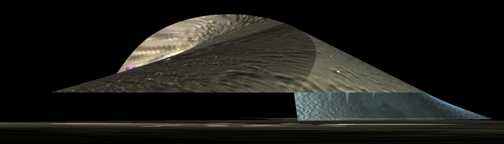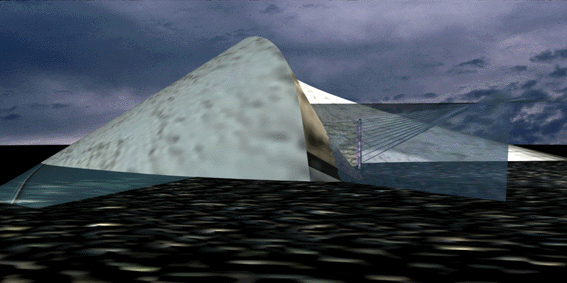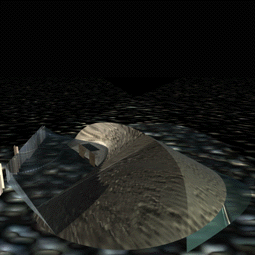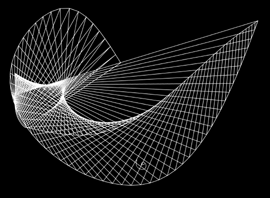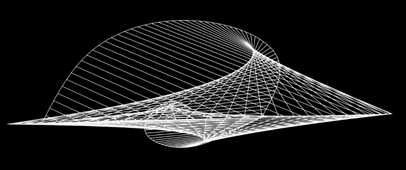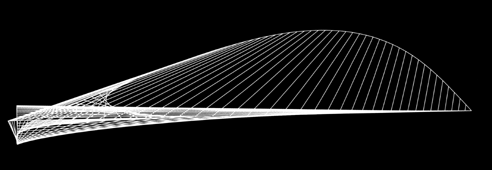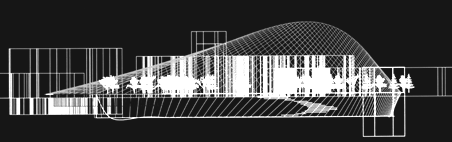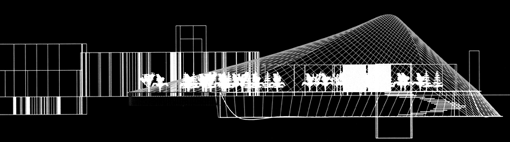|
Os mais refinados trabalhadores da pedra não são os instrumentos em cobre ou aço, mas os delicados toques de ar e da água trabalhando por prazer, com a livre permissão do tempo. Henri David ThoreauDesign do Tempo
Emanuel Dimas de Melo Pimenta
Meu pai foi uma pessoa muito especial.
Nasceu no Luso, próximo de Coimbra, em Portugal – e o seu nascimento coincidiu com o final da primeira Guerra Mundial.
Desde cedo revelou um grande talento, especialmente em relação à micro mecânica. Atento, seu pai daria início em 1936 a uma indústria de relógios, no Brasil, como forma de orientar e dar forma àquela energia – então, meu pai tinha apenas dezessete anos de idade.
Depois de muitos anos, a indústria se expandiu e se tornou na segunda maior do planeta, já na década de 1970.
Mas havia algo mais profundo, algo marcante na sua alma, mistério que magnetizou toda a sua vida: o tempo.
Qual era a natureza do tempo?
O que era esse misterioso algo que parece se orientar como uma flecha, inexoravelmente para a frente?
Desde menino eu ouvia as suas apaixonadas explicações sobre Minkowski, Einstein, imaginárias viagens intergalácticas, tempos se dilatando ou se contraindo, buracos negros, pulsares e minerais que vibravam nos seus traços piezo elétricos, estranhos comportamentos de gases, tudo como a edificação de um encantador mundo de ficção científica.
Toda a ficção é parte da realidade e toda a realidade é uma espécie de ficção.
Dividíamos esse amor – para além da arquitetura, da música, da fotografia, da poesia e do cinema: a fascinação pelo tempo.
Música é tempo – e nós dois, quando eu era muito novo, deitávamos ao chão, com os olhos fechados, para ouvir Ravel, Debussy, Prokovief, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov ou Jacha Heifetz, Arthur Rubinstein e Toscanini entre tantos outros.
Na pintura, maravilhava-o Jeronimus Bosch, Magritte, Max Ernest ou Dali.
O surrealismo era para ele, em muitos sentidos, uma libertação do tempo. Para ele, Bosch tinha sido o primeiro dos surrealistas.
Tornou-se um especialista, um inventor de máquinas que mediam aquilo que ele aspirava se libertar.
Amava Picasso e o cubismo sintético que fixava a totalidade do ser num único momento de tempo.
Creio que, sob esses aspectos, eu acabei por ser a única pessoa com quem ele partilhou esse mágico universo.
Ele nunca foi, de fato, um artista ou mesmo um cientista, no sentido mais preciso desses termos. Foi um verdadeiro engenheiro – pessoa do engenho, das máquinas, da aplicação prática das leis, por vezes até mesmo demasiadamente pragmático.
Foi um inventor, como Edison.
Registrou mais de duzentas patentes.
Um inventor solitário e apaixonado pelos mistérios da Natureza.
Embora sempre voltado para o futuro, paralelamente a esse encantamento pela ciência, pela descoberta – seguramente como busca de um fundamento essencial para um tal espírito – ele nunca deixou de mergulhar no passado.
Desde novo procurava compreender os enigmas do Antigo Egito, o espírito mágico de Tales, de Pitágoras. Arquimedes terá sido um dos personagens, entre mais os antigos, que mais terá amado.
Outro, foi Galileu – para o meu pai, Galileu emergia como um marco fundamental na mudança de pensamento do Ocidente.
Contava-me, quando eu era criança, sem esconder uma tímida e eludida emoção, sobre o velho Galileu, cego, numa cela, paredes de pedra, explicando aos seus alunos os segredos do pêndulo, que descobrira com apenas dezenove anos de idade.
E eu perguntava – Como, estando cego, podia o mestre explicar um desenho? - Só as pessoas geniais são capazes disso, de transmitir algo por formas tantas vezes misteriosas. – respondia.
E eu ficava imaginando aquela mágica cena.
Tudo sempre girando em torno do tempo.
Em 1950, quando ele tinha pouco mais de trinta anos de idade, decidiu dar início a uma coleção de relógios antigos.
Nunca procurou os mais valiosos em termos materiais.
Não era um colecionador de riqueza material, um comerciante de obras antigas ou de pedras preciosas.
Era um pesquisador, tal como um detetive de crimes, juntando centenas de peças para formar uma grande biblioteca não verbal, sempre à sua disposição, como uma gigantesca bricolage feita de outros tempos, de outros pensamentos, de outras pessoas aos quais ele pudesse se juntar.
A sua curiosidade, o seu interesse real se orientava sempre para os avanços técnicos.
Pois tecnologia é fazer e a ação implica, inevitavelmente, uma reflexão sobre a realidade.
Ele queria compreender, através da técnica, da ação, da reflexão sobre os fenômenos naturais, os segredos do tempo e da Humanidade.
Munido desse brilhante espírito, ele correu o mundo e formou uma formidável coleção de relógios.
Para onde quer que fosse, depois de 1956, lá estava a minha mãe – ajudando-o com as peças que ele ia identificando, como um verdadeiro arqueólogo.
Durante cerca de quarenta anos, nunca se separaram, nem mesmo por um dia.
O tempo era, para ele, algo tão fascinante como terrivelmente escasso, veloz, efêmero.
Um dia, em 1996, ele morreu – vitimado por uma infecção generalizada.
Infelizmente, a sua coleção, então com algumas centenas de peças, acabou por ser inevitavelmente distribuída entre os seus quatro filhos.
A escolha das peças foi feita por cada um dos filhos, num processo de alternância contínua – cada um escolhendo uma peça por vez.
Eu tinha cuidado daquela coleção durante alguns anos e conhecia bem cada uma daquelas peças.
No início da década de 1980 cheguei a escrever um pequeno livro – Pequena História do Design do Tempo.
Ainda assim, diante da distribuição das peças, tratei de reestudar, com profundidade, toda a história do design dos relógios.
A minha vida acabou por ter um percurso bastante diferente daquele que desenhou a existência do meu pai.
Desde menino, embora sempre apaixonado pela ciência, mergulhei na arte, na arquitetura, na música.
Estudei com alguns mestres fabulosos, pessoas ligadas a nomes como Frank Lloyd Wright, Walter Gropius ou Le Corbusier. Tive como um grande mestre e amigo Hans Joachim Koellreutter – antigo aluno de Paul Hindemith, de Hermann Scherchen e de Marcel Moyse. Estudei Teoria do Pensamento, Semiótica. Tornei-me arquiteto, urbanista, compositor daquilo que poderíamos chamar de música erudita contemporânea, ou música experimental ou, ainda, Música Nova. E também fotógrafo. Elegi a flauta transversal como meu instrumento primeiro. Escrevi vários livros. Lancei vários cds. John Cage me convidou para colaborar com ele e com Merce Cunningham. Tornamo-nos grandes amigos. O mesmo aconteceu com René Berger.
Enfim, uma diferente escala, um mundo bastante diferente daquele que desenhou a vida do meu pai.
Mas, manteve-se entre nós, mesmo depois do seu desaparecimento, uma ligação espiritual – algo que transcende as nossas escolhas pessoais, os nossos caminhos pessoais, algo que está indelevelmente presente no nosso código genético e que, neste momento, revela-se no fascínio pela descoberta, pelo mistério, onde quer que ele esteja.
Assim, quando ele morreu, a minha escolha sobre as peças não podia aspirar a nada menos que – utilizando livremente a expressão – uma obra de arte.
Deveria ser um ato que designasse uma crítica sobre o seu primeiro traço, um ato de desconstrução que pudesse ser fortemente revelador.
Apenas assim, constituindo duas operações livres e independentes – em todos os sentidos – poderia emergir algo realmente interessante.
Sabedor dessa responsabilidade ética e estética, mergulhei novamente nos livros, durante semanas, e reaprendi tudo aquilo que ele pessoalmente me tinha ensinado ao longo dos anos.
A coleção foi dividida.
Mas, aquilo que poderia representar dissabor, mágoa e desencanto face ao desmembramento da coleção original, acabou por se mostrar como um mágico ato de criatividade.
Foi como se daquele grande número de peças emergisse algo com um desenho muito especial, como algo novo.
Acabei por constituir uma nova coleção, em homenagem aos meus pais, contando com peças datadas desde o século XVII e já com novos exemplares que tenho descoberto nas minhas constantes viagens.
Tempo
A própria razão nos forçará admitir tanto existir, desde a mais profunda eternidade, certas coisas verdadeiras, como não estarem elas ligadas a causas eternas, e como serem, ainda, livres de uma necessidade do destino. Marcus Tullius Cícero
A questão do tempo tem sido um elemento central que desenha a base de todo o pensamento filosófico em qualquer sociedade, de qualquer época.
Trata-se de uma afirmação aparentemente arriscada – mas é interessante orientarmos algumas reflexões sobre ela.
É com essa questão que surge a idéia de ritual fúnebre – e aí se suporta a origem de toda a linguagem: a fixação da memória.
Jacques Lacan indicava «o ponto crítico do qual datamos no ser humano o ser falante: a sepultura, é dizer de onde se afirma de uma espécie que, ao contrário de qualquer outra, o corpo morto guarda o que ao vivente outorgava o caráter: corpo».
E essa identidade do corpo apenas é possível com o tempo.
No seu nascimento, Hades, deus da morte na antiga Grécia, é devorado mas também expelido por Cronos.
A morte, o desaparecimento, mas também a descoberta, a origem do conhecimento, da memória – que é devorada, mas igualmente devolvida, recolocada pelo tempo.
Apenas conhecemos a nós próprios em momentos limite, quando alguma coisa se desfaz, quando algo desmorona, quando há alguma espécie de morte, de transformação – qualquer ela que seja, em qualquer escala.
Assim, Hades também é, num certo sentido, um deus do conhecimento.
A palavra morte surge de um termo pré-histórico *mer e que passou ao latim mor. Curiosamente, aquele antigo termo indo-europeu *mer estaria, por misteriosas vias, associado na sua origem às expressões, também indo-européias, *me e *ma, que geraram as palavras matéria, mar, máquina, projetando a idéia de medir, conduzindo ao sânscrito manu, que significa sábio e aquele que mede.
Não apenas, *ma está associado à idéia de uma energia criativa – de onde emerge a palavra mãe.
Toda a medida implica um elemento diferencial.
Todo o conhecimento implica uma diferença.
Cronos, por sua vez, é filho do céu e da Terra, de Urano e de Gaia. Filho do movimento das estrelas e da nossa viagem planetária pelo espaço sideral.
Assim, estabelece-se a idéia daquilo que vulgarmente fazemos de tempo – o princípio de ordem de movimento, orientado pelas estrelas, pelo Sol e pela Terra.
A palavra tempo lançaria algumas das suas mais remotas referências no mundo pré-histórico através da raiz indo-européia *tem, que significava “cortar”, “dividir” e que também gerou a palavra templo.
Aquele antigo termo pré-histórico fez emergir o verbo grego temnein, que significa cortar. Daí o aparecimento da expressão átomo, que significa literalmente aquilo que não pode ser cortado, que não pode ser dividido.
A palavra templo, por sua vez, indica na sua explicação etimológica um espaço separado – isolamento que pode ser considerado como um dos traços fundamentais daquilo a que chamamos de sagrado.
O sagrado tem a sua existência fundada no livre pensar, no tempo livre – o que é contrário aos formatos, aos estereótipos.
A própria vida tende ao estereótipo, desde os seus traços mais básicos – tomando como exemplo os chamados ciclos circadianos e as flutuações diárias de temperatura dos nossos corpos.
Por essa via, e ainda que em geral não tenhamos plena consciência de tal evidência, o estereótipo nada mais é que a sublimação da Natureza no seu modus operandi, através da emergência de padrões estáveis de repetição – tal como encontramos no nosso ritmo diário de alimentação, de sono, ou ainda nas estratificações geológicas, nos padrões migratórios regulares e até mesmo nos ciclos produzidos pela rotação da Terra.
O sagrado é a ruptura com o estereótipo.
Sem nos darmos conta, mesmo tomando a cultura como um instrumento contra a Natureza, acabamos por obedecer aos seus ritmos – de onde fizemos emergir o sentido de tradição que, embora implique em si a ruptura, a transformação, aspira a uma contínua rotação, a uma perene repetição.
O anti-formato, o movimento contrário ao formato, em oposição ao estereótipo, que é a base da condição do sagrado, do livre pensar, é a separação, o distanciamento da Natureza na geração da cultura.
Como o conteúdo de um novo meio é o seu meio anterior, o conteúdo da cultura obedece aos ciclos e à repetição.
Aquilo que tomamos como cultura, no seu sentido mais amplo, é uma crítica da Natureza e traz nos seus traços não lineares, nos seus elementos de descoberta, de iluminação, na sua essência primeira, o que chamamos de tempo livre, de sagrado.
Há sempre um elemento do sagrado em tudo o que é cultura.
Por isso, tal como acontece com o que chamamos de cultura, o templo é um lugar separado de todo o resto.
Assim, nas suas origens, a palavra tempo implica a diferença – e é somente com a diferença que temos a consciência.
Em última instância, consciência nada mais é que a própria existência das coisas – pois toda a existência impõe algum tipo de diferença.
E isso não significa dizer que as coisas não são reais.
Daí os termos real e realidade surgirem da palavra latina res – que, de forma encantadora, parecem estar associadas ao verbo reri, que significava pensar. Por isso, res não significa apenas coisa, mas também conjuntura e experiência.
A realidade, aquilo que compreendemos como tal, depende do pensamento, da estrutura de como pensamos.
Portanto, seguindo as idéias de Emanuel Kant – e, muito mais tarde, de Werner Heisenberg – aquilo que conhecemos nada mais é que a forma de conhecermos.
Kant dizia que «a razão só compreende aquilo que produz segundo os seus próprios planos».
A realidade nada mais é, em última análise, que a nossa estrutura pensamental.
O que não significa dizer que uma tal estrutura esteja restrita a um indivíduo ou aprisionada dentro de um cérebro.
Se apenas podemos conhecer através da diferença e se o tempo implica em si um sistema de diferenças – a realidade apenas poderá significar uma diferença sobre uma estrutura de diferenças.
Assim, somente uma totalidade pode significar uma realidade – desconstruindo a antiga ordem sincrônica pelas vias de uma abordagem tomando tudo de uma única vez.
Escondido pela mãe logo após o nascimento e trocado por uma pedra envolvida por panos, Zeus é o único filho de Cronos a não ser devorado pelo próprio pai.
A pedra é o interconector temporal por excelência.
Cronos devora, por engano, uma pedra.
Zeus, substituído por um simulacro que é o interconector temporal, emerge do tempo, mas dele é escondido para que não seja devorado. O nome Zeus surge do Indo Europeu *diós – que era o deus do céu diurno e da luz, da visão.
É essa a origem da nossa palavra deus.
Enquanto que a natureza primeira do tempo é a diacronia, uma coisa depois da outra, a da visão é a sístase: tudo de uma única vez.
Quando olhamos alguma pintura, por exemplo, não vemos uma coisa de cada vez, mas sim o todo – isso é a sístase.
Todavia, quando ouvimos, os sons seguem numa linha de descontinuidades – e isso é a diacronia.
Quer dizer, a palavra sincronia surgiu da fusão, no grego, de syg e de kronos, revelada no latim syn chronu, significando a montagem, a reunião, ou a ação conjunta do tempo.
Esse é o princípio essencial que caracteriza a máquina e a visão.
Não há mecanismo ou máquina sem tempo – como que nos lembrando a todo o momento a presença da morte. Mas também não há energia criativa – resgatando a partícula indo-européia *ma – sem tempo.
Haveria um contrário possível para o tempo?
Essa era uma questão fundamental entre os antigos gregos – já suficientemente visuais para a imaginar. Apenas se pudesse existir um não-tempo é que o próprio tempo poderia ter um fim. Caso contrário, o tempo seria, obrigatoriamente, eterno.
Mas, existindo um não-tempo, para estar no início ou no fim do tempo, ele deveria ter alguma existência concreta, o que é uma impossibilidade, uma contradição.
Não existindo contrário possível, por outro lado, o próprio tempo não poderia ser algo existente.
Kant tomou essa questão como central nas suas reflexões. Ele insistiria ainda, na sua Crítica à Razão Pura que, apesar de incognoscível, somente no tempo «é possível a realidade dos fenômenos».
Assim, apenas pressupondo podemos representar qualquer coisa.
Isto é, o tempo é algo inerente a tudo – o que Kant tão sabiamente chamou de a priori.
O Mahabharata – livro sagrado Indiano – diz que o conhecimento é um tecido contínuo – mas pleno de múltiplos pontos de mutação.
O genial Heinrich Zimmer defendia que a Índia pensa o tempo como algo biológico, onde a existência individual é algo efêmero, perdido numa escala gigantesca; e que o Ocidente pensa o tempo como uma questão biográfica, como a história de uma existência.
E parece ter sido exatamente assim, pelo menos até ao início do terceiro milênio.
Somos educados a tomar o tempo como história.
E a história nada mais é que uma tecnologia civilizatória.
Esquecemo-nos, por vezes, de que a história implica um início, um meio e um fim e, mais que isso, algo entre esses intervalos – o verbo.
O verbo gera, em termos lógicos, um direcionamento da ação – isto é aquilo – o que chamamos de predicação.
Essa é uma imagem do tempo.
Para o Zen, a Iluminação, o momento da descoberta é o seu elemento essencial.
E não há consciência sem diferença, sem Iluminação, sem descoberta.
Octavio Paz, comentando o aparecimento dos ready-made, Roger Caillois e, muito especialmente, a obra de Marcel Duchamp, contava que na antiga China, desde há muito, algo como uma obra de arte era estabelecida por religiosos quando escolhiam, ao acaso, pedras e sobre elas assinavam o seu nome.
«...escolhiam pedras que lhes pareciam fascinantes e as convertiam em obras de arte pelo único fato de gravar ou pintar o seu nome nelas», relatava Paz.
O que aqueles antigos pensadores orientais faziam era uma referência direta ao tempo – o que, num certo sentido, não é muito diferente daquilo que Duchamp fez.
Criando elementos diferenciais, estabelecemos momentos limite, resgatamos Hades das sombras e, fazendo Cronos expelir o deus da morte, tomamos consciência daquilo que nos forma, num dado momento, e descobrimos – Satori!
No antigo Egito, Osiris foi mais que o deus do mundo dos mortos e da ressurreição – ele implicava, em tudo aquilo que significava, a noção do tempo.
Um tempo formalizado pela serpente mordendo a própria cauda, num contínuo de recorrência, numa estrutura de auto-similaridade, tal como Mandelbrot viria a revelar como o universo fractal.
Esse antigo conceito da serpente mordendo a própria cauda, resgatado pelos fractais de Mandelbrot numa outra dimensão, mostra-nos que a estrutura lógica que caracteriza o tempo também pode ser estabelecida no espaço.
Ao tomarmos um determinado perímetro, de uma figura real qualquer, e estabelecermos a sua medida – como as fronteiras de um país – se alterarmos a escala, aquela medida será cada vez maior, até atingir o infinito – e vale, aqui, relembrarmos o Princípio da Incerteza de Heisenberg.
Os antigos egípcios, tal como os indianos hoje, tinham clara essa noção.
Para eles, os números eram mais qualidade que quantidade.
Cada número indicava, assim, uma relação cósmica – tudo presente num continuum multidimensional.
O número um era o todo, o dois era a oposição manifestada por tudo aquilo que existe. Pois tudo o que existe traz em si uma oposição – o claro e o escuro; o frio e o quente e assim por diante.
Por isso diz-se sempre que a Natureza opera por contrários, nas suas mais diversas implicações.
O três era o resultado da fusão do todo e do tempo, revelando a razão. O quatro era a dinâmica da vida: o tempo e a sua contradição intrínseca – que estava presente na figura da suástica, tal como acontecia na Índia. O cinco era a razão e o tempo, isto é, a sabedoria.
Essas idéias não eram totalmente novas.
Elas já estavam presentes, de uma ou de outra forma, na Mesopotâmia, entre os Sumérios e os Acádios.
Entre os Sumérios – para não referir a figura do pentágono – o elemento essencial que designava o poder real era o “registro das decisões”, também conhecido como o “registro dos destinos”.
A escrita designando o destino das pessoas.
Com a escrita, e especialmente com o a escrita pictográfica, mas mais intensamente com o código fonético, silábico ou alfabético, a visão torna-se o sentido mais importante.
Tudo aquilo que antes era fixado pela memória através da audição, dando ao tempo uma forma específica, é gradualmente contaminado pela visão, para a qual a sístase, o sentido de totalidade, é algo fundamental.
Começamos, então, a desconstruir um universo caracterizado pela diacronia através do sentido da visão.
Esse legado mesopotâmico passa, através da sua intensificação, ao Egito como a emergência da construção em pedra – o interconector temporal por excelência.
Enquanto que entre os antigos povos mesopotâmicos a construção acontecia predominantemente com terra, no Egito surge a pedra.
Mais que isso, surge a pedra plana com recortes precisos, formando desenhos de luz, com a projeção da luz do Sol, tal como faríamos com o neon, já no século XX.
A pedra plana, o recorte na superfície irregular, as pirâmides como elementos destacados do todo, isolados em compartimentos visuais, separados do deserto, tendo a primeira pirâmide como uma escada que sobe ao céu, pontos planetários que pretendem superar a morte, nas suas várias dimensões, como uma conquista do tempo.
A superação do tempo na forma do conhecimento total.
Uma estranha e enigmática transcendência da natureza do próprio conhecimento.
As antigas pirâmides egípcias eram coroadas com um acabamento em metal, de forma a fazer com que o ponto de encontro dos seus vértices fosse invisível às pessoas.
Esse ponto era a representação do Sol e, mais do que isso, da própria Natureza – algo que existe, mas que não é inteligível.
Uma tal noção de não inteligibilidade passou à Grécia – e especialmente através de Pitágoras e de Platão – para cunhar muito da idéia de Deus nos tempos modernos. O Deus intocável, mas omnisciente.
Tudo ligado à idéia de tempo. Mas, será possível fazer uma idéia do tempo?
Essa idéia paradoxal do tempo, algo representado pela partícula indo-européia *tem, indicando uma divisão, foi incorporada por Zaratustra – afinal, não somente o tempo apenas pode existir se nele houver elementos contraditórios à sua natureza linear, como na própria existência das coisas, tudo é composto por uma dualidade conflituosa – como o silêncio, para não dizer da natureza da própria consciência.
Cerca de quatrocentos anos depois de Zaratustra, Mani – um sábio pintor, o Buda da Luz – nascia no Império Sassânida, próximo dos rios Tigre e Eufrates. Ele realizaria essas idéias com raro refinamento.
Mani acabou por ser torturado e assassinado pela aristocracia local e do seu nome surgiria a expressão “maniqueísmo” – um conceito contraditório com as suas idéias.
Ele defendia que o mundo é composto por dualidades – não obrigatoriamente boas ou más – elementos que projetavam uma realidade em contínua metamorfose.
Quando Mani nasceu, o consumo de papiro – que projetou uma forte intensificação do uso da visão e do alfabeto fonético – era gradualmente substituído pelo pergaminho, um meio mais lento e muito menos flexível.
Mani, que tinha uma grande sensibilidade visual, vivia num mundo que abandonava rapidamente a estrutura fortemente visual de Aristóteles e o universo já bastante departamentalizado e uniformizado greco-romano.
Enquanto que para Mani, a imagem do tempo implicava a concepção de um universo feito de departamentos interativos e interdependentes, a sociedade de então compreendia tudo como parte de um contínuo sem divisões.
Em termos lógicos, o olho é caracterizado pela sístase, pela capacidade de abordar tudo de uma única vez, mas projeta a sensação do continuum. Por outro lado, o ouvido opera por sincronia pontuada em divisões internas, mas projetando a sensação da estratificação.
Tal acontece porque a Natureza opera por contrários.
Assim, a democracia nasce de uma cultura literária, dando a idéia de independência pessoal, enquanto que culturas tribais têm uma forte sensação de ligação interpessoal.
Santo Agostinho, que durante dez anos seguiu o pensamento de Mani, questionaria, mais tarde, nas suas Confissões: «O que é, afinal, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei o que ele é. Se eu o procuro explicar, não sei o que é. Entretanto, posso afirmar com segurança que eu sei que se nada aconteceu, não haverá passado; que se nada estiver para acontecer não haverá futuro; e que se nada acontece, não há presente. Mas, então, como podem existir esses dois tempos, passado e futuro, quando o passado já não mais é, e quando o futuro ainda não aconteceu? Mas se o presente fosse sempre presente, e não se tornasse passado, então obviamente não teríamos tempo, mas eternidade».
O tempo de Agostinho é um tempo contínuo, mais fortemente acústico, realizado no presente – a aspiração à eternidade.
Mas, no século XI tem início a produção de papel no Ocidente – começando pela Espanha – e gradualmente, gerado pelo novo meio, muito mais flexível acumulador e articulador informacional, o tempo passou a ser departamentalizado em unidades uniformes.
Rapidamente as torres das igrejas passaram a definir o tempo das antigas cidades, as vias foram pavimentadas, a circulação se tornou mais fluida, os números perderam a sua dimensão de qualidade e se revelaram enquanto expressões de quantidades, tudo passando a ser, mais e mais, forma e conteúdo, e – assim – a estrutura social foi revelando uma nova mutação.
Fomos nos tornando mais presos a uma estereotipada e uniforme noção de tempo.
Entretanto, do outro lado do planeta, tanto no Japão como na China o tempo era medido através de bastões de incenso, com fragrâncias variando segundo o momento do dia e a estação do ano.
O olfato é o nosso sentido mais integral.
Enquanto que na Idade Média o mundo era feito de tempos paralelos – momentos de tempo relativamente independentes – o surgimento do relógio mecânico e da imprensa de tipos móveis metálicos de Gutenberg gerou uma uniformização e uma unificação que atingiria virtualmente todo o planeta apenas no século XX.
Passo a passo, a uniformização e a normalização do tempo acabou por redesenhar os ritmos estabelecidos pelas estrelas, pelo Sol e pelo movimento da Terra.
O mundo visual estereotipa e dessacraliza.
A percepção do tempo está diretamente ligada à nossa memória.
Temos, basicamente, dois tipos de memória – uma de curto termo e outra de longo termo.
A memória não é algo passivo, mas sim uma permanente construção, uma contínua elaboração criativa.
Não apenas, a memória não é algo restrito aos nossos corpos, aos nossos cérebros.
Ao longo de milhares de anos fomos construindo verdadeiras próteses de memória, tal como o papel.
Uma folha de papel não é somente um meio para armazenar, passivamente, informação.
Toda a informação é metabolismo dinâmico.
Alterando as nossas próteses cognitivas – como o papel ou o computador – modificamos as relações entre os sistemas neuronais de memórias de longo ou de curto termo.
Alterando essas relações, implicando – naturalmente – uma diferente abordagem criativa aos sistemas de informação, mudamos a nossa compreensão do tempo.
Numa folha de papel, esteja ela em branco esperando pela nossa intervenção, ou seja ela uma folha impressa, de um livro por exemplo, tudo é permanente criatividade.
Naturalmente, essa criatividade possui diferentes naturezas.
A imprensa de tipos móveis de Gutenberg iniciou um processo de intensificação daquilo que poderíamos chamar de comunicação de mão única.
Basicamente, tratou-se da fusão do papel e do alfabeto fonético através de um método de alta definição e baixa mobilidade interna. Séculos mais tarde os computadores em rede viriam, por exemplo, constituir sistemas de alta definição e alta mobilidade interna.
Ainda que não possamos esquecer a sua potencialidade criativa, o processo estabelecido por Gutenberg fez surgir meios com forte estabilidade sistêmica – como o livro moderno, por exemplo – e pouca dinâmica interativa. O que nos dá a impressão de estarmos numa atitude passiva quando lemos em silêncio.
Essa é a imagem daquilo que conhecemos como o concerto clássico de música, o palco italiano, o jornal, o transmissor e o receptor.
Essa é a imagem do livro.
Toda a extensão ou prótese sensorial nada mais é que parte radical do ambiente, transformando-o na sua essência. E, por isso, é fortemente entorpecente.
Assim, absorvidos nesse ambiente, constituímos as nossas escolas – onde um organismo relativamente estático de professores, disciplinas e horários se coloca no lado oposto ao dos estudantes – um lado se direcionando ao outro.
Nas famílias, os pais estão, geralmente, de um lado – os filhos do outro.
Os ritos religiosos – seja qual for o credo – têm um emissor e o público, a audiência... e assim por diante.
Pode-se relativizar essas imagens, mas elas são a base de muito o que conhecemos.
Essa também é a imagem do tempo que construímos.
Um tempo inexorável, implacável, externo a nós, indivíduos.
Algo a cerca do qual nada podemos fazer.
Mas, essa não é, obrigatoriamente, uma idéia universal.
Nos anos da década de 1970 surgiu uma enérgica discussão sobre a natureza do tempo.
Pouco antes, brilhantes cientistas como John Archibald Wheeler tinham defendido, à luz das teorias quânticas, uma natureza simétrica para o tempo.
Passado e futuro coincidiriam, de alguma forma.
Mas Ilya Prigogine viria questionar essas idéias com um sólido argumento: os sistemas dissipativos.
Tudo, quando lidamos com termodinâmica, é caracterizado por uma natureza fortemente dissipativa: transformação.
Essa idéia, de que tudo é transformação dissipando continuamente energia, levou Prigogine a concluir que o tempo obedeceria, obrigatoriamente, a um único sentido de desenvolvimento.
Assim, a condição absoluta de transformação contínua conduziria a uma igualmente absoluta noção de tempo, fazendo resgatar Parmênides quando defendia que «não se pode conhecer aquilo que não é; até mesmo expressar o que não é por palavras é algo impossível. Pois pensar e ser é o mesmo».
Cogito cartesiano revelado cerca de dois mil anos antes de Descartes, num ambiente completamente diferente.
A intensificação das transformações em fluxo contínuo, típico do pensamento de Heráclito, gerou a idéia de um tempo inexorável, direcional, típico do pensamento de Parménides.
Curiosamente, os investigadores do universo quântico, defendendo um tempo de natureza simétrica, permaneceriam associados a Heráclito.
Sendo tudo transformação em dissipação, tudo tenderia, obrigatoriamente, à entropia.
Mas, em certos casos, processos dissipativos produzem novos modelos complexos.
Basta olharmos para o céu, para as estrelas.
Haverá, assim, uma quebra de simetria interna no funcionamento da Natureza, caso contrário a vida não seria possível.
Entretanto, qualquer fenômeno dissipativo implica um momento posterior à dissipação, isto é, uma flecha no tempo, uma fixa orientação temporal.
Existindo uma orientação temporal – passado e futuro serão diferentes e, portanto, o tempo será assimétrico.
A teses de Prigogine – rapidamente classificadas por alguns como aristotélicas e deterministas – foram brilhantemente suportadas por René Thom e a fabulosa Teoria das Catástrofes.
«O tempo permanece, apesar de tudo, como qualquer coisa de fundamentalmente irreversível. Quando os físicos afirmam que todos os processos físicos são reversíveis, expressam aquilo que os Ingleses designam por wishful thinking, um pio desejo; eles eliminam do fenômeno todos os aspectos que exibem uma certa irreversibilidade para conservarem, apenas, aquilo que é perfeitamente reversível. Mas, eu penso que não existe uma fenomenologia sem uma alguma forma de irreversibilidade, portanto, para que exista um fenômeno é necessário que qualquer coisa entre pelos nossos olhos» – defendia René Thom.
As questões envolvendo um tempo simétrico ou assimétrico, a reversibilidade ou irreversibilidade temporal, seriam animadas por Hermann Minkowski, ainda no século XIX, mais tarde professor de Einstein.
As suas idéias de espaço tempo ficaram mundialmente conhecidas pela afirmação, durante uma conferência, realizada em 1908, de que «a partir de agora, o espaço por si só e o tempo por si só, estão condenados a terminar como mera sombras, e somente um tipo de união entre ambos preservará a sua independência».
Sendo espaço e tempo componentes de um mesmo sistema, a reversibilidade temporal surgiu como uma realidade.
Mas essa questão da reversibilidade do tempo já pertencia à mecânica de Newton, conhecida como time reversal invariance. Trata-se de um princípio segundo o qual para qualquer movimento que ocorre ou que pode ocorrer, o movimento em reversão é igualmente possível.
Uma afirmação que os adeptos dos modelos dissipativos simplesmente não podiam aceitar pois era algo que estava para além dos nossos sentidos.
John Wheeler daria a resposta a Prigogine – tudo é uma questão de escala.
A nossa idéia de um tempo direcional é algo que se fundamenta em Aristóteles, para quem toda a realidade é de natureza causal. Mas, não apenas isso, tudo pertence a uma causalidade local.
Aristóteles viveu um período de crescente uso do papiro e já uma razoável intensificação visual.
A predicação e a ilusão de contiguidade – que perderiam importância durante o período medieval e que seriam definitivamente intensificadas durante o Renascimento – já estavam bastante presentes naquele antigo mundo da Grécia de Aristóteles, o que possibilitou o surgimento do princípio conhecido como terceiro excluído. Isto é, quando alguma coisa é, o seu oposto simplesmente não pode existir.
Isso é exatamente o que os partidários dos sistemas dissipativos defendem e, também por isso, foram classificados de aristotélicos.
Pode nos parecer evidente um tal princípio – mas Schopenhauer o questionou vivamente.
Por que a causalidade deveria ser exclusivamente local?
Tal como Schopenhauer, John Wheeler não esconderia a sua perplexidade – «Há coisas estranhas no tempo que continuam a me intrigar. Uma delas é a assimetria do tempo. Outra é a flutuação quântica do tempo. Para além dessas duas se encontra a coisa mais estranha de todas, o fim do tempo. Nós podemos ir para a esquerda e para a direita, para a frente e para trás, para cima e para baixo, tudo com igual facilidade. Nada nas leis da Natureza ou na experiência nos diz que estamos limitados a mover no espaço em apenas uma única direção. Por que o tempo possui uma flecha? Por que nos lembramos do passado e não do futuro?».
Já no início dos anos 1970, Stephen Jay Gould e Niles Eldredge perceberam que a evolução dos seres vivos, quando tomadas numa escala mais alargada, revelava certos pontos de mutação, aos quais eles chamaram de punctuated equilibria, não obedecendo a qualquer causalidade aparente.
As idéias de Schopenhauer levaram Jung a elaborar o conceito de sincronicidade, dando margens para todo o tipo de especulação. A partir dele, Arthur Koestler faria um imenso sucesso editorial com o seu livro As Razões da Coincidência, vivamente criticado por Peter Medawar.
Em 1970, três cientistas – Yoichiro Nambu, Holger Nielsen e Leonard Susskind – demonstraram que as interações nucleares podiam ser claramente compreendidas a partir de um modelo segundo o qual as partículas elementares seriam extremamente pequenas, vibratórias e unidimensionais.
Esse modelo tornou possível a concepção da Teoria das Supercordas – como tentativa de alcançar uma teoria unificada do Universo.
Imaginemos os átomos, compostos por elétrons, prótons e neutrons. Estes, por sua vez, compostos por partículas sub-atômicas, tais como os quarks, os muons ou os neutrinos – quais serão, entretanto, as componentes destas partículas menores?
Segundo o modelo das Supercordas, serão partículas elementares, vibratórias e unidimensionais – espécies de cordas, se pudéssemos usar livremente a expressão.
Ora, sendo unidimensionais, estariam fora do espaço tempo tal como o conhecemos.
Isto é, estariam numa outra escala – para resgatar a resposta de John Wheeler à questão do tempo simétrico.
Tal fenômeno indicaria que, embora estejamos todos interligados numa espécie de rede temporal cuja natureza assimétrica, direcional, é extremamente forte, para além de uma certa escala o espaço e o tempo funcionariam de outra forma.
O que nos lembra Heráclito quando dizia que «tal como o rio em que tenho os pés não é mais o mesmo, e é; assim também eu sou e não sou».
O Universo é transformação; a nossa vida é o que os pensamentos a fazem. Marco Aurélio
O edifício
Assim que abordamos o terreno destinado ao edifício para o Museu do Design do Tempo de Trancoso, logo percebemos que o seu desenho topográfico revela um ligeiro declive insinuando uma leve queda lateral.
Se do ponto mais alto pudéssemos emitir partículas mais pesadas do que o ar, que corressem livremente pelo terreno, traçariam linhas naquele sentido.
Mas, se pudéssemos tomar os edifícios mais próximos como pontos gravitacionais, atraindo aquelas partículas, elas passariam a desenhar curvas.
Trata-se de um edifício para conter um projeto para um permanente reflexão sobre o tempo – mas, mais do que isso, também imagens, documentos, gravações musicais, lugar para pequenos concertos, outras exposições.
Um espaço dinâmico tendo o tempo como referência essencial.
O fluxo de pessoas deveria ser dinâmico, sempre portando uma surpresa, uma descoberta.
A determinação do ponto de lançamento do fluxo de pessoas obedeceu a alguns princípios – a proximidade com a avenida principal, o edifício antigo, parte da abadia renascentista que funcionará como ingresso primário, o ponto mais elevado do terreno e a localização face ao movimento do Sol.
Segundo a milenar sabedoria do Feng Shui podemos traçar um interessante diagrama de localização do edifício.
Através dele, designa-se uma espécie de espelhamento cósmico.
Um dos objetivos era criar um edifício praticamente isolado do mundo, como um outro mundo. Entretanto, sendo também um lugar destinado a receber qualquer pessoa como o seu próprio espaço.
Um elemento de descontinuidade, de surpresa, face à própria cidade.
Assim, o ingresso junto ao edifício principal terá apenas uma porta – e o edifício, no seu primeiro piso, não possui janelas.
Entre o edifício antigo, de acesso primário, pertencente à antiga abadia, e o edifício do museu, surge um espaço cinza – momento de abertura, de transição entre aquilo que é a realidade exterior e a lógica da nova estrutura edificada.
Agora, devemos dedicar algumas muito breves reflexões sobre a natureza daquilo a que chamamos tempo.
Pelo menos no que toca diretamente as nossas vidas pessoais – será o tempo uma linha contínua?
A nossa percepção temporal depende das nossas memórias.
Possuímos, em traços muito rápidos, dois tipos de memória – uma de curto termo e outra de longo termo.
Se procurarmos fixar a nossa atenção num determinado evento – o nosso relógio de pulso, por exemplo – facilmente verificaremos como somos incapazes de manter a nossa consciência, a nossa concentração, durante muitos segundos.
Quando menos esperamos, o nosso pensamento se desvia e somos obrigados a recomeçar a experiência.
É que, então, chegamos ao limite da nossa memória de curto termo.
Muito simplificadamente, o nosso sistema de memória de curto termo funciona como um conjunto de espécies de geradores cíclicos contínuos, em diferentes frequências.
Quando um determinado ciclo de re-entradas, como denominou Gerald Edelman, atinge uma certa saturação, aquele padrão passa à memória de longo termo.
Por isso, dependendo do que estamos fazendo, temos a sensação de maior ou de menor tempo.
A nossa sensação de tempo depende da relação entre as descontinuidades e o nível de redundância das nossas ações.
Ora, essa não é a imagem de uma linha reta!
Tratamos de ciclos. Mas, não lidamos com ciclos regulares.
Temos sempre a questão das descontinuidades num sistema contínuo. Isso me levou a pensar na idéia das espirais.
Afinal, não parece podermos imaginar o tempo como uma linha reta, ou mesmo como um círculo.
Se tomarmos os edifícios mais próximos como centros gravitacionais e considerarmos algum peso próprio nas partículas que libertamos do alto do terreno, a figura resultante do seu trajeto seria, provavelmente, semelhante a uma espiral.
Conhecemos alguns tipos de espiral. Teodoro de Cirene – presente no Teateto de Platão – deixou-nos uma espiral.
Arquimedes também, que tornaria o seu desenho num prático instrumento conhecido como espiral separadora. Temos a espiral fundada na série de números de Fibonacci, que inspirou muito da obra de Le Corbusier, com o seu modulor. Há ainda – fundada em toda essa mágica história – a espiral logarítmica de Jakob Bernoulli, por ele chamada spira mirabilis em 1692.
A história da espiral está associada ao número irracional que era considerado, pelos antigos egípcios, como um número sobrenatural.
Em todas essas espirais, tendo clara a presença do ciclo, a geração da figura é baseada em sistemas algorítmicos. Mas a razão entre as partes é sempre estável.
Todavia, não temos essa estabilidade na nossa sensação do tempo.
Assim, tratei de procurar elaborar uma espiral onde o desenho fosse estabelecido por um processo não previsível, onde as relações entre as suas partes fossem, ainda que orientadas num sentido específico, caracterizadas por princípios não-lineares.
A espiral surgiu como uma espécie de atrator matemático.
Uma espécie de momento gravitacional.
A forma do edifício deveria ser fundada, tal como a emergência de qualquer forma, pelo cruzamento de dois atratores. Procurei, então, elaborar duas espirais não-lineares, com flutuações em três vetores e não apenas em dois.
O cruzamento dessas espirais, uma tendendo à verticalidade, outra à horizontalidade, geraram a forma do edifício – que é, por sua vez, também a forma do terreno e do fluxo de pessoas, resgatando ainda algo da nossa sensação de tempo. Uma forma orgânica emergindo de todas as potencialidades.
Assim, a geração do desenho do edifício está no dinâmico metabolismo do fluxo das pessoas, na topografia local e numa idéia de tempo.
Temos dois pavimentos.
A estrutura exterior é toda realizada em concreto – tal como ocorre com a imagem de alguns edifícios contíguos, em cinza – mas com uma forma que é sempre surpresa em todos os seus momentos.
Oscar Niemeyer inventou a verdadeira curva na arquitetura.
A curva barroca, por exemplo, possui apenas um ponto fundamental na ponta seca do compasso.
A verdadeira curva, na arquitetura, é aquela que expande todos os seus pontos fundamentais num conjunto imprevisível de singularidades.
A porta de entrada é feita em pedra, grosseira e reta, enbutida, violando a superfície plástica – porque apenas a diferença gera a consciência. E como panos, lâminas de metal escovado. Ao penetrarmos pelo edifício, o pavimento revestido com elemento emborrachado, absorvente acústico, e as paredes internas em negro.
Perfurando sutilmente as paredes do edifício, pequenos orifícios que permitem a passagem de estreitos fachos de luz solar, redesenhando o espaço luminoso interno de forma diferente a cada hora do dia e a cada dia do ano.
Tudo constituindo um gigantesco relógio solar, uma espécie de caleidoscópio cósmico desenhado pela luz.
Tubos transparentes feitos de acrílico, como colunas efêmeras, numa distribuição aperiódica, têm dentro delas imagens, iluminados pontualmente, resplandecendo em meio à penumbra.
Espalhados um pouco por todo o lado, seguindo também elas uma ordem não-linear, aperiódica, lâminas em plástico semi transparente têm projetadas imagens de espaços de diversas épocas – do século XVII até aos nossos dias. Em cada setor do salão, pode-se ouvir a música de uma determinada época – que desaparece assim que nos deslocamos para outra área.
Junto à porta de entrada, um pequeno conjunto de computadores permite ao visitante realizar verdadeiras viagens virtuais para observar em detalhes cada peça, e aceder à sua descrição mais detalhada.
No grande salão, onde estão as colunas transparentes, as imagens efêmeras e as músicas, existe um espaço aberto, como uma espécie de centro gravitacional imaterial do edifício – lugar para concertos musicais de pequenos grupos, apresentações, debates, reflexões.
Enquanto que o primeiro pavimento se destina à exposição e diversas atividades – e é um núcleo fechado – o pavimento inferior é totalmente aberto, contém uma coleção de música, uma sala de audições, uma sala para reparos e restaurações de peças antigas e um pequeno armazém.
O primeiro piso é isolado do mundo, fechado, escuro – o piso inferior é aberto, cheio de luz e transparências.
A ligação entre os dois pavimentos é um elemento fundamental no edifício.
Trata-se de uma terceira espiral formando uma grande escada – na verdade, o cruzamento de duas espirais, formando apenas uma em oposição às duas grandes espirais que geram a estrutura do edifício.
Os degraus da grande escada – em metal, mas cobertos por um material emborrachado – são aperiódicos no seu desenho, em termos planimétricos – grandes planos que levam as pessoas a observar com atenção os seus próprios passos.
Suportando a escada, uma parede irregular é uma espécie de túnel vertical ligando os dois pisos.
Nas paredes dessa espécie de túnel, estão as impressões das mãos dos habitantes de Trancoso, a cidade onde se destina o edifício – como um poderoso manifesto humano, a presença da população.
Memória de um momento histórico.
O piso inferior possui uma grande lâmina de vidro, como uma grande janela em inclinação – entre essa lâmina e o espaço interior há um jardim interior, com plantas de diversas espécies, pois elas fazem parte das nossas vidas.
A presença das plantas, constituindo quase uma estufa, absorve o som e protege o interior da incidência direta de raios solares.
Em todo o edifício é desenhado um sistema de circulação de ar, do primeiro ao segundo pavimento, de forma a alcançar algum equilíbrio de temperaturas e reduzir a amplitude térmica tanto no inverno como no verão.
Trata-se de um edifício simples.
Traços no ar, que são designados pelo cruzamento de atratores, de espirais não-lineares – gerando uma espécie de ruptura ao nível cognitvo, traduzida pela surpresa, permanente descoberta, armadilha lógica que nos faz conscientes, passo a passo, a cada momento, da nossa dimensão humana.
O Museu do Design do Tempo, em Trancoso, Portugal, é um projecto do Arquitecto Emanuel Dimas de Melo Pimenta. Website: http://www.emanuelpimenta.net
|
respiro@2000-2009
All rights reserved